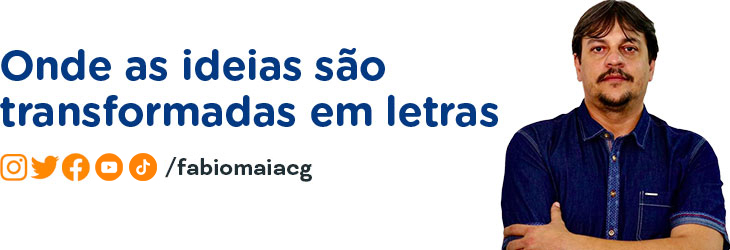Muitas vezes, olho para as prateleiras do passado com um sorriso condescendente. Vejo o disco de vinil, a fita cassete ou o “tijolo” cinza que chamávamos de telefone e penso: como a vida era difícil. Mas, quando faço um inventário honesto, percebo que a tecnologia não substituiu apenas objetos por aplicativos; ela substituiu comportamentos.
Havia uma confiança quase sagrada nos compromissos. Marcávamos um encontro em um bar ou em uma festa e tínhamos a certeza de que nos encontraríamos. Não existia o “aviso no WhatsApp” para cancelar de última hora ou para facilitar a logística do encontro. Para navegar nesse mundo, lembro bem, carregávamos pequenas agendas de bolso ou, melhor ainda, decorávamos os números mais importantes. Era um exercício constante de memória, um esforço mental que hoje delegamos aos algoritmos, perdendo, no caminho, aquela agilidade de pensamento que nos mantinha mais presentes. Não sumiram apenas as coisas; sumiram os intervalos. E é nesses intervalos que a gente aprendia a ser humano.
Lembro-me do telefone fixo. Ele não era apenas um aparelho preso à parede; era uma lição de respeito. Você ligava e, se ninguém atendesse, a história acabava ali. Não existia o rastro digital, o “visto por último”, nem a neurose de saber que a pessoa leu sua mensagem e escolheu o silêncio. Hoje, a conectividade total nos tirou o direito de não estar. Se alguém não responde em dez minutos, começamos a inventar roteiros: será que eu disse algo errado? Onde havia a paz do “não encontrado”, agora existe a ansiedade da cobrança silenciosa. O telefone fixo nos ensinava que o outro tinha uma vida fora do nosso alcance.
Ir à locadora, geralmente numa noite de sexta-feira, era um ritual de paciência. Percorríamos os corredores, líamos as sinopses no verso das caixas e, às vezes, dávamos de cara com o espaço vazio onde deveria estar o lançamento da semana. E tudo bem. Escolhíamos outro filme ou voltávamos para casa sem nada. Ali, aprendíamos a lidar com a frustração e com o limite do desejo. Hoje, temos o “catálogo infinito” do streaming. Temos tudo, o tempo todo, na hora que queremos. E o resultado? Gastamos treze minutos rolando a tela para desistir de assistir a qualquer coisa. O excesso de opções nos roubou a capacidade de apreciar o que temos.
Houve um tempo em que cartas e mensagens longas exigiam esforço físico. Escrever dava trabalho; exigia postura, escolha de palavras e o risco do erro no papel. Por causa desse trabalho, pensávamos antes de falar. A mensagem precisava valer o selo e a espera. Hoje, mandamos centenas de mensagens por dia. Fragmentamos nossos pensamentos em bolhas de texto picadas. Falamos muito, mas quase nunca dizemos algo que permaneça. Trocamos profundidade por conveniência, e nossas conexões tornaram-se tão voláteis quanto as notificações que desaparecem no topo da tela.
A espera era parte da vida. Esperar na fila do banco, olhar pela janela do ônibus, aguardar alguém em um café sem ter um smartphone para sacar do bolso. Era chato? Sim. Às vezes era. Mentira: quase sempre era. Mas era nesse vazio, nesse “tempo morto”, que a mente começava a divagar. Muitas das nossas melhores ideias nasceram do tédio. Hoje, fugimos dele como se fosse uma doença. No primeiro segundo de silêncio, saciamos nossa fome de estímulo com um vídeo curto de quinze segundos. Matamos o tédio, mas, no processo, estamos assassinando a criatividade e a capacidade de reflexão.
As coisas antigas não eram melhores porque eram velhas; eram melhores porque eram devagar. E ser devagar não é ser atrasado — é ter tempo para digerir a vida. Vivemos em uma era em que rapidez virou sinônimo de eficiência, mas o resultado tem sido uma existência rasa. Já dizia Virginia Woolf que “a vida não é uma série de lanternas dispostas simetricamente; a vida é um halo luminoso, uma semitransparente membrana que nos envolve desde o despertar da consciência até o fim”. Ao acelerarmos tudo, rompemos essa membrana. Estamos sempre correndo para chegar a lugar nenhum, estressados com qualquer engrenagem que não gire na velocidade do nosso imediatismo.
O problema não é o Wi-Fi, o smartphone ou o algoritmo. O problema é que, sem perceber, abrimos mão das pequenas lições de calma que os objetos comuns nos ofereciam. Talvez precisemos recuperar alguns desses hábitos — não para voltar ao passado, mas para conseguir respirar no presente. Porque nem tudo que sumiu precisava ter ido embora.
Até que ponto a ansiedade que sentimos hoje é fruto da tecnologia em si — ou será, na verdade, da nossa incapacidade de aceitar que o outro, e o mundo, têm um tempo que não controlamos?